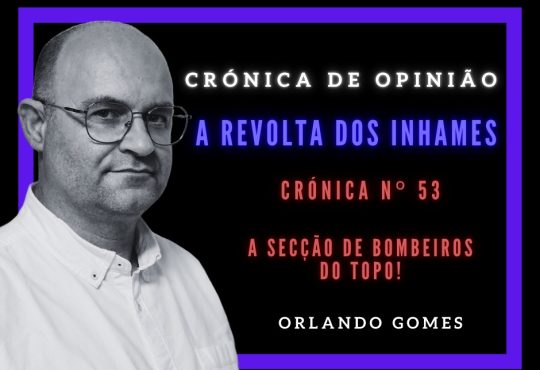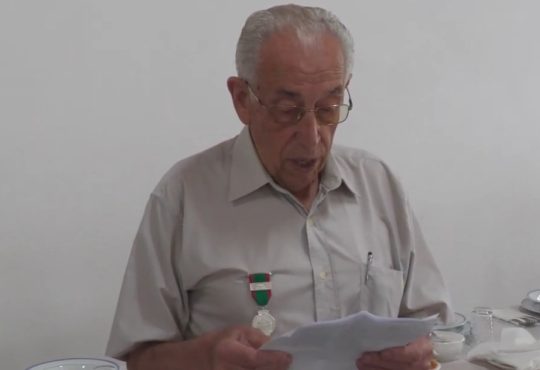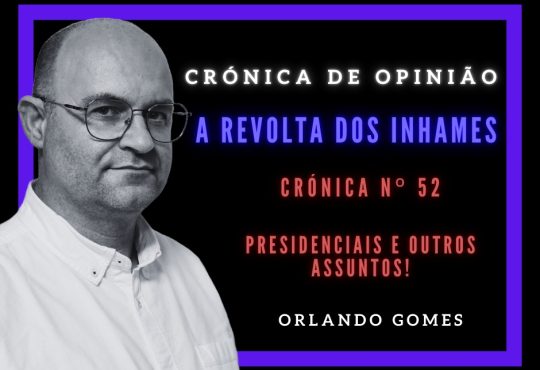OPINIÃO | Na Estação das Glicínias: A Palavra como Lugar Ético na Obra de Ângela de Almeida, por Diniz Borges

“Ângela de Almeida avança no mundo literário português desocultando-se para melhor se ocultar, através de uma estética, uma ética, uma poética inigualáveis.”— Fernando Dacosta
No magnífico livro Caligrafia dos Pássaros, Ângela de Almeida inscreve uma poética intensa e multifacetada, onde o corpo, a memória, a ilha e o mundo se entrelaçam numa poesia extremamente sensível. Natural da cidade da Horta, nos Açores, a autora inscreve a insularidade não apenas como geografia, mas como condição existencial, cultural e política. Os seus versos são ao mesmo tempo lamento e resistência, ancorados numa linguagem que sabe ser delicada e feroz, íntima e universal, vegetal e marítima. Com imagens poderosas e linguagem ritmada, Ângela de Almeida convida-nos a mergulhar num universo onde a liberdade é desejada como horizonte, a justiça é clamada contra o silêncio cúmplice, e a palavra poética assume-se como forma de abrigo e de reinvenção do mundo. Aliás, o título do livro já revela muito: trata-se de uma caligrafia feita pelos pássaros — símbolo de liberdade, mas também de fragilidade — e que se inscreve nas fendas da pele, nas margens da memória, nos corredores da história. Herberto Hélder disse-o magistralmente: “E, no entanto, os pássaros escrevem com o corpo a gramática do céu.”
Como sublinha Fernando Dacosta no prefácio, a autora “retém imagens, ideias, sentimentos que comunica devagar, em cumplicidades suspensas.” Essa contenção revela um compromisso com a ética da linguagem — uma recusa do excesso e da pressa, uma confiança na intensidade que o silêncio pode carregar. Através da metáfora recorrente do voo, dos alfabetos e das aves, Ângela de Almeida constrói uma caligrafia da liberdade, que é também uma denúncia da violência, da guerra e da exclusão. A sua poesia situa-se na confluência do pessoal e do político, transformando as feridas da história em matéria poética e convertendo o silêncio em canto solidário, ou como escreveu Octávio Paz: “A poesia é uma língua de ninguém, falada por todos.”
A poética da liberdade
O motivo do voo e dos pássaros atravessa todo o livro como uma metáfora para a liberdade — ora desejada, ora negada, ora perdida. No primeiro poema, a poeta afirma: “suavemente / a caligrafia dos pássaros sossega as fendas da pele”, revelando que a poesia tem o poder de acalmar as feridas do corpo e da memória. Mas esta suavidade inicial logo se contrasta com imagens de opressão, deslocamento e dor.
A liberdade não é dada; é procurada, muitas vezes com violência e urgência. Em “Ítaca II”, a autora escreve: “nada disseste / sobre o destino daquele pássaro / com a liberdade de uma asa em sangue”. O pássaro ferido representa o sujeito poético marcado por um desejo de emancipação que é, simultaneamente, beleza e ferimento. O uso do verso “com a liberdade de uma asa em sangue” condensa de forma exemplar a tensão entre a utopia do voo e a realidade brutal da queda. A liberdade, portanto, é sempre relacional: nasce do confronto com a dor, da recusa da resignação. Como escreveu Paul Éluard: ““A liberdade é um voo com uma asa ferida.”
Justiça social e denúncia política
Se a liberdade é um tema dominante, a justiça social é o seu desdobramento ético. Porque como escrevei Audre Lorde: “A injustiça é um silêncio imposto. A poesia é uma resposta.” Daí que a poeta não escreve de um lugar meramente abstrato. A sua poesia é profundamente enraizada na realidade, nos conflitos sociais e nas geografias do sofrimento. Em “Ciclo das Horas III”, lemos:
“passa uma guerra cabisbaixa e também uma paz comovida /
passa uma religião /
passa outra religião /
e ainda uma língua ao lado de outra língua agarradas a uma Constituição”.
Nesta profusão de imagens, a poeta enumera os elementos que atravessam a vida contemporânea: a guerra, a paz, as religiões, as línguas, as leis. Tudo passa, tudo transita. No entanto, o que se revela, com uma clareza espantosa, é a fragilidade dos discursos institucionalizados. A Constituição aparece amarrotada, os tratados passam sem deixar marcas permanentes. O poema, por sua vez, resiste ao esquecimento. O poema fixa o instante, denuncia a banalização da dor e o esvaziamento dos grandes ideais.
A denúncia torna-se ainda mais explícita em “Cantata de Perturbação II”, quando a poeta escreve:
“aquele é o uivo dos cães /
que morrerão hoje /
em Myanmar e na Síria”.
Com poucas palavras, Ângela de Almeida traz para dentro do seu universo poético os horrores da guerra contemporânea. Os cães, símbolo da inocência e da fidelidade, tornam-se vítimas de uma violência excessiva. O poema é um grito ético que recusa o silêncio cúmplice, transformando-se num espaço de memória e de resistência: “o aplauso será a bala única / que para sempre calará o latido / que nos alimentava”. A linguagem poética é montagem, colagem de ruínas, espelho de um mundo à deriva. A poesia, ao condensar essas imagens, funciona como um arquivo de tudo o que não pode ser esquecido.
A insularidade como condição e metáfora
Embora universais, os temas da obra não perdem o ancoramento numa experiência profundamente insular. A ilha é presença constante, implícita ou explícita, seja como espaço físico, seja como metáfora da condição humana. Em “Campo”, a poeta escreve: “aqui o campo / é o intervalo entre as fronteiras da minha condição”. A condição insular é a de quem vive entre margens, no intervalo, entre o estar e o partir. Esta experiência do “entre” molda toda a visão poética de Ângela de Almeida.
A insularidade não é apenas isolamento; é também contemplação. Em “Ciclo do Delírio VIII”, a poeta homenageia Ricardo Reis com versos de quietude e despojamento:
“comecemos o dia a oriente junto às ravinas com as mãos envoltas em anéis de água
e olhemos o azul e acetinado manto e fiquemos ausentes e livres”.
Neste excerto podemos ver que a liberdade não é uma explosão, mas uma suspensão. A paisagem insular transforma-se em estado de alma. A poeta propõe um estar no mundo que é simultaneamente ausência e pertença, silêncio e plenitude. Trata-se de uma liberdade interior, quase estoica, que se oferece como alternativa à barbárie ruidosa do mundo. Na realidade a liberdade poética nasce da contemplação — uma resistência serena ao ritmo imposto pelo mundo. A insularidade, na poesia de Ângela de Almeida, transforma-se em lente. É da margem que se vê o centro. Porque como nos disse Vitorino Nemésio: “Numa ilha, o mundo inteiro cabe num gesto.”
Universalismo e Alteridade
Apesar da ancoragem insular, a poesia de Ângela de Almeida é de vocação universal. Uma voz que recusa o fechamento, abraçando o outro e as geografias distantes como parte do seu mapa poético. Na “Cantata de Perturbação III”, por exemplo, a autora situa a sua origem ocidental para afirmar um pertencimento mais amplo:
“nasci num dia a ocidente / com uma flauta na boca / coberta de alfabetos indecifráveis”.
A imagem dos “alfabetos indecifráveis” remete à pluralidade de culturas, línguas e experiências humanas. A poeta apresenta-se como herdeira de um mundo fragmentado, migrante, onde os signos ainda não foram totalmente compreendidos. Em vez de recusar essa herança, a poeta aceita-a como matéria poética e como gesto de hospitalidade. O poema torna-se o lugar de tradução, onde o estranho pode ser acolhido e o indizível ganha o seu próprio espaço. A poesia de Ângela de Almeida dialoga com geografias e as mais variadas vozes do mundo. A sua escrita é poliglota, é migrante e é mestiça.
Essa dimensão universal aparece também no modo como a autora convoca a água, o mar, as fontes — símbolos recorrentes da vida, do batismo, da passagem. Em “Ítaca V”, o nome da ilha-mito é associado ao reencontro com o outro, ao amor e à criação: “juntos esculpíamos as pétalas ao redor da flor / e em silêncio criávamos a casa de pedra”. Ítaca, mais do que um lugar, é um estado poético, um ponto de convergência entre o eu e o mundo, entre o íntimo e o épico. A viagem para Ítaca é a busca do amor, da casa, da palavra que resiste. E é também uma metáfora da poesia como movimento que une e separa, que nos lança ao mundo e nos devolve a nós mesmos.
A palavra como abrigo e resistência
Em tempos de colapso dos sentidos e de erosão das linguagens políticas, a poesia de Ângela de Almeida surge como um gesto radical de fidelidade à palavra. A poeta acredita que ainda é possível habitar o mundo pela linguagem. Em “Ciclo do Delírio III”, escreve:
“como se as nossas mãos fossem a casa ou o abrigo
o exílio que mata o medo”.
As mãos, símbolo da ação e do afeto, tornam-se abrigo e habitação — uma espécie de território mínimo de salvação. É nesse território que a poeta inscreve a sua caligrafia dos pássaros: uma escrita que se recusa entregar ao esquecimento e ao cinismo. Mesmo quando tudo parece desmoronar-se — como em “Ítaca VII”, onde “sucumbiram todos os alfabetos” —, a poeta encontra nos vasos escondidos, nas camélias, nas espigas, palavras que escapam ao temporal. A palavra resiste, mesmo quando tudo parece perdido. Como escreveu Maria Gabriela Llansol: “A palavra é o lugar onde o corpo ainda respira.”
Caligrafia dos Pássaros é uma obra que contém uma profunda densidade poética, onde o íntimo se funde ao histórico, o insular ao universal, a delicadeza à denúncia. Ângela de Almeida escreve como quem resgata — memórias, alfabetos e vozes. A sua poesia oferece-nos um espaço de respiração num mundo não só saturado de ruído e de urgência, mas também de injustiça e de esquecimento. Ao evocar pássaros, navios, rios, mãos, ruas e alfabetos, a poeta constrói uma cosmogonia própria, onde a liberdade é uma forma de olhar, de apelidar e de amar. António Ramos Rosa disse algures: “Escrevo para que ninguém fique sem lugar.” Neste livro, todos têm espaço.
Caligrafia dos Pássaros é uma obra que nos devolve a crença na palavra como gesto ético e estético. Ângela de Almeida escreve com as margens do mundo, mas sem se fechar nelas. A sua poesia é ponte, é eco, é canto de pássaro e manifesto silencioso. É uma escrita que convoca o íntimo e o coletivo, a memória e o espanto, a ilha e o planeta. Como afirma Fernando Dacosta, Ângela de Almeida é “um ser que sabe encontrar caminhos”, e a sua poesia, ao mesmo tempo contida e incendiária, traça com precisão os contornos de um mundo em ruínas e, ainda assim, habitável. Ler esta obra é ser devolvido à dimensão mais nobre da linguagem: aquela que sabe dizer o inenarrável, guardar o que escapa, nomear o que arde — e, ao fazê-lo, reabrir o mundo.
Se, como dizia Paul Celan, “a poesia é o lugar onde o indizível ainda pode ser dito”, então a poesia de Ângela de Almeida é esse sítio em que a linguagem ainda tem corpo, alma e horizonte. Uma linguagem que voa — e que, ao voar relembra-nos que somos, todos, mas mesmo todos, feitos da mesma caligrafia frágil e luminosa dos pássaros, e onde todos somos convidados a reencontrarmo-nos com o nosso próprio voo.